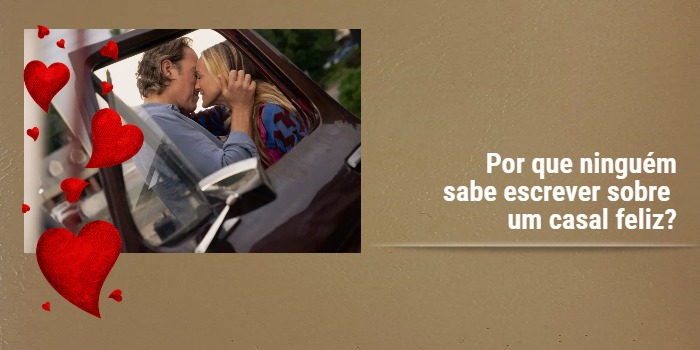
POR QUE NINGUÉM SABE ESCREVER SOBRE UM CASAL FELIZ?
A narrativa romântica na ficção evita casais felizes duradouros, perpetuando separações dramáticas que desvalorizam o amor real
Na vida, a gente se apaixona, ama, se separa, e faz tudo de novo. Faz parte do jogo. Muitas mulheres questionam hoje se fomos condicionadas a sonhar com o “final feliz” inexistente ou se ele realmente é possível. Claro que normalmente quem pergunta isso se encontra sozinha, mas ainda se mantém o fato de que essa mensagem complexa da (im) possibilidade de ser feliz ao lado de alguém faz parte de todas as histórias que consumimos na TV, no Streaming, na Literatura, no Teatro, no Cinema e na vida. Mas há uma pegadinha. Já reparou que na ficção ninguém parece saber o que fazer com um casal que dá certo?
Em qualquer mídia, é como se roteiristas e autores entrassem em pânico diante da possibilidade de mostrar duas pessoas apaixonadas simplesmente vivendo e enfrentando a vida juntos. Como se o amor, quando correspondido e equilibrado, deixasse de ser interessante. E aí vem o clichê de sempre: traição, rompimento repentino, mal-entendido forçado, separação dolorosa e, quem sabe, uma reconciliação no último episódio ou nas últimas páginas. Um padrão cansativo que revela uma limitação criativa enorme e, sinceramente, uma desvalorização do amor construído no tempo.
Essa tendência nem é nova. Existe até uma expressão para isso: “a síndrome da gata e o rato”, que ganhou esse nome por causa da série dos anos 80 Moonlighting (A Gata e o Rato, no Brasil), estrelada por Cybill Shepherd e Bruce Willis. O público torcia enlouquecidamente por Maddie e David, mas, quando finalmente ficaram juntos, a audiência despencou. O casal funcionava como tensão, como promessa, não como realidade. A lição foi gravada a fogo na cabeça de produtores e roteiristas: se o casal principal se resolve antes do final, perde-se o interesse. Mas será que isso é verdade ou só um dogma repetido à exaustão?
O amor impossível como fórmula de roteiro
Vamos aos dados. Um estudo feito em 2020 pela USC Annenberg sobre representações românticas na TV indicou que 78% dos casais centrais em séries americanas de drama passam por separações “traumáticas” antes do final da série — e menos da metade termina junta. Outra pesquisa, da Nielsen, mostra que a expectativa de “happy ending” é frustrada em cerca de 60% das séries com casais centrais que duram mais de três temporadas. O que essas estatísticas sugerem é que o drama do amor interrompido virou regra, não exceção. E isso está corroendo a empatia do público, que hoje desconfia de todo casal que parece estar indo bem.
Vejamos alguns exemplos. Friends fez o público torcer por Ross e Rachel por dez temporadas, só para nos brindar com rompimentos intermináveis, traições duvidosas (“we were on a break!”) e reconciliações apressadas. Quando finalmente ficam juntos, é nos minutos finais do último episódio. Idem para The Office, com Jim e Pam, que quase entram nessa espiral na última temporada, quando os roteiristas ensaiaram uma crise conjugal gratuita que por sorte foi revertida. Já em Sex and the City, Carrie e Big são o retrato da disfunção: um relacionamento marcado por má comunicação, abandono e vaivéns sem fim. E agora, And Just Like That repete a mesma receita com a “destruição” de Aidan (ok, nem Big ou Aidan são exemplos românticos saudáveis, não é o mérito que discuto, os uso como exemplo porque também foram formulaicos). É como se Carrie estivesse condenada a nunca viver um amor pleno, estável, que a desafie, sim, mas sem precisar destruir tudo para provar que é real.
É por isso que eu celebro com entusiasmo quase infantil um único casal que resiste a tudo isso: Harry e Charlotte. Desde que apareceram juntos, ainda na série original de Sex and the City, eles mostraram que é possível ter embates, inseguranças, adaptação mútua — mas sem se perder, sem jogar o outro fora por uma crise mal resolvida. Harry não era o “tipo” da Charlotte, e ela teve que trabalhar isso. Ele, por sua vez, soube acolher, ser firme quando precisava, construir um lar. Passaram por adoção, maternidade, menopausa, discussões financeiras… e seguem juntos, sendo um porto seguro um para o outro. Eles são a exceção que confirma a regra — e deveriam ser o modelo.
Casais estáveis são entediantes?
Minha revolta sobre o problema essa semana é por conta da minha série favorita do momento. Em The Gilded Age, temos um exemplo que, ao contrário, mostra como esse ciclo se repete. Marian e Larry são um casal que o público quis desde a primeira temporada. A relação foi crescendo, com doçura e tensão na medida certa, e finalmente eles ficam noivos. Mas bastou um conflito — um mal-entendido sem intenção maliciosa — para Marian romper de forma impulsiva, quase teatral, como se o mais importante fosse preservar a própria narrativa de orgulho do que considerar a complexidade do momento. Não há conversa, não há tentativa de escuta. O resultado? O casal se desfaz sem sequer lutar. E no século 19, diga-se, Marian não teria essa autonomia toda para romper um noivado de bom grado. Isso diz mais sobre os roteiristas contemporâneos do que sobre o período retratado.
Aqui um comentário a mais sobre The Gilded Age: Marian, como uma mulher daquela época aceitaria armagurada a mentira de Larry, somente hoje – século 21 – não se espera que o fizesse. É um anacronismo que só é possível justamente porque os roteiristas acreditam que não podem dar ao público o que ele quer de primeira. Um sadismo narrativo previsível: agora vamos vê-los separados (a 4ª temporada foi confirmada hoje) até terem o final feliz. A fórmula tira o suspense e se já é conhecida, por que usá-la?
A verdade é que a ficção está viciada em drama por trauma. Como se a tensão romântica só existisse quando há separação. Mas e a tensão de estar junto? De enfrentar o cotidiano, os medos, os planos? Isso não é menos interessante, apenas exige mais sutileza. Veja Friday Night Lights, com Tami e Eric Taylor — um dos raríssimos casais da TV que se amam, discutem, erram, perdoam, e continuam caminhando juntos. Ou Parks and Recreation, com Leslie e Ben, que conseguiram ser engraçados, românticos e sólidos ao mesmo tempo.
Na literatura, o mesmo se aplica. Sou abertamente apaixonada por Jane Austen, a rainha de criar artifícios de separação do casal principal até a última página. Quantas vezes Elizabeth e Darcy quase se perdem por orgulho e preconceito? E em Jane Eyre, onde o casal só pode ficar junto depois de uma tragédia literal? Até Os Bridgertons, na sua versão para TV, esticam ao máximo o sofrimento de seus casais principais, como se o amor só valesse a pena se viesse com dor.
O original hoje é inverter esse roteiro. Quero ver casais que ficam juntos, que brigam e se resolvem, que crescem. Quero mais Harrys e Charlottes, mais Taylors, mais Ben e Leslies. Porque a vida real já é difícil demais — e ver um casal feliz, de verdade, na ficção pode ser justamente o alívio, o exemplo e o afeto de que a gente precisa.
E tem mais: essa limitação narrativa não se restringe à TV. No cinema, o mesmo padrão se repete. Quantas comédias românticas terminam com o beijo ou a declaração de amor, mas nunca mostram o depois? Isso quando não colocam os protagonistas brigando por duas horas só para se declararem na chuva nos últimos cinco minutos. Em La La Land, por exemplo, Mia e Sebastian são feitos um para o outro — mas não terminam juntos, porque seus sonhos vêm antes. Pode ser realista, mas também reforça a ideia de que o amor precisa ser sacrificado em nome da narrativa de superação pessoal. Em Closer, Blue Valentine, História de um Casamento, o amor se desfaz de forma quase clínica, como se a destruição fosse mais interessante que a construção.
Mesmo em animações, que deveriam ser um espaço de esperança, o padrão persiste. Em Encanto, a personagem principal nem tem um par romântico. Em Frozen, depois da decepção amorosa com Hans, Elsa simplesmente… abandona a ideia de amor romântico. É claro que é bom expandir os tipos de afeto mostrados em tela, mas por que o romance, quando surge, parece tão temido ou tão descartável?
A própria literatura já pavimentava esse caminho. Na maioria dos romances clássicos, o casal sofre, separa, enfrenta mil obstáculos — e quando finalmente se resolve, a história acaba. Como se viver o amor fosse o verdadeiro problema. Orgulho e Preconceito termina no casamento. Jane Eyre só se reúne com Mr. Rochester depois de ele perder tudo. Até em Dom Casmurro, temos um narrador obcecado por um amor que ele mesmo destrói — e a dúvida sobre Capitu se torna mais importante do que o que eles viveram de fato. Amor estável, maduro, vivido? Nem pensar.
Amores duradouros também carregam emoção
E é por isso que casais como Harry e Charlotte se tornam tão raros e preciosos. Eles não são perfeitos porque não erram — são perfeitos porque erram e continuam juntos. Porque se escolhem de novo, mesmo depois das fases difíceis. Em And Just Like That, com todos os exageros e deslizes da série, Harry continua sendo o único homem cuja presença gera alívio, e não ansiedade. Ele não representa um conflito, mas um apoio. E isso deveria ser visto como conquista dramática, não como tédio. (Espero que não sacrifiquem e matem Harry para ter mais histórias de recomeço para Charlotte).
Quando penso em The Gilded Age, sinto que perdemos uma oportunidade preciosa com Marian e Larry. Ele, mais contido e moderno, oferece a ela uma possibilidade real de parceria — e ela, ao menor sinal de frustração, desiste. Pior: desiste sozinha, sem escutar, sem lutar, sem compreender as nuances. Isso é realmente coerente com a personagem? Ou é apenas conveniência de roteiro, o velho truque de separar para ter o que resolver depois? E se não houver uma próxima temporada? O que fazemos com esse afeto cultivado e jogado fora?
Não estou dizendo que todo casal feliz precisa viver em estado de graça. Casais interessantes brigam, se desentendem, enfrentam o mundo. Mas podem — e devem — permanecer juntos, porque isso também é drama. A tensão da convivência, da decisão de continuar mesmo sem garantias, é muito mais rica do que a de mais uma traição ou mais uma separação apressada.
Talvez os roteiristas estejam com medo de entediar. Mas quem assiste está cansado de nunca ver um amor que floresce e permanece. A gente não quer perfeição, quer reconhecimento. Quer ver na ficção aquilo que às vezes é difícil na vida: um amor que não desiste.
E quer saber? Isso daria um ótimo final de temporada.
Fonte: Revista Cláudia/ Ana Claudia Paixão em 28/07/2025



